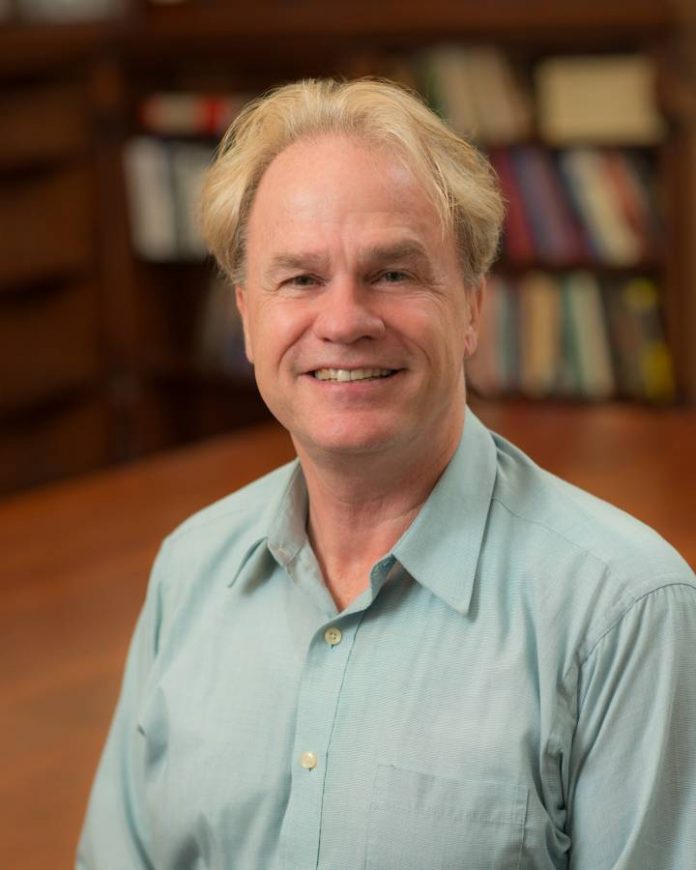Por Felipe Bettim
Historiador e brasilianista norte-americano conversa com o EL PAÍS sobre ditadura brasileira e a renovação que o campo progressista terá que enfrentar
James Green já foi chamado de “namorado” da ex-presidenta Dilma Rousseff (PT), com quem foi visto passeando nos Estados Unidos em 2017. Ambos se aproximaram quando ela ainda estava na presidência e ele escrevia um livro sobre o militante de esquerda Herbert Daniel, que participou da luta armada durante a ditadura, foi amigo de Rousseff e teve que, numa época em que a homossexualidade era vista como um desvio burguês pela esquerda, reprimir sua sexualidade. Revolucionário e gay: A extraordinária vida de Herbert Daniel foi lançado no Brasil em agosto de 2008 pela editora Civilização Brasileira. Historiador e brasilianista norte-americano, Green estudou ciências sociais na Universidade de São Paulo (USP) no final dos anos 70 e ajudou a fundar o PT em plena transição para a democracia. Hoje, conta, vem ao Brasil ao menos quatro vezes por ano.
Aos 68 anos, o também ativista LGBT e professor de história latino-americana e brasileira da Brown University coordena um movimento internacional nos Estados Unidos para informar sobre a atual conjuntura política do Brasil. “Já temos uma rede com 40 grupos filiados e vamos organizar 100 atividades no aniversario do assassinato de Marielle Franco, no dia 14 de março”, explica. “E vamos lançar um observatório em inglês sobre a democracia no Brasil, para o público norte-americano que quer acompanhar a situação. Vamos fazer um trabalho no Congresso americano sobre o Brasil e organizar um lobby popular”, conta. “Estive em Washington para falar com assessores de congressistas que estão muito interessados no Brasil, e muito preocupados com o que está acontecendo”, acrescenta ele, que costuma dizer que o presidente Jair Bolsonaro “é 10 vezes pior” que seu homólogo Donald Trump. “E isso assusta as pessoas”.
O historiador recebeu o EL PAÍS para uma conversa na quinta-feira, 21 de fevereiro, véspera do lançamento, para o qual foi convidado, de um site do Ministério Público Federal sobre Justiça de Transição no Brasil, um conjunto de medidas para reparar as violações de Direitos Humanos cometidas pelo Estado durante a época da última ditadura militar (1964-1985). Estudioso sobre esse período, Green acredita que as forças conservadoras que fizeram o impeachment de Rousseff e depois impulsionaram a candidatura do hoje presidente Jair Bolsonaro são as mesmas que patrocinaram o golpe de 1964. “É horrível ver tudo de novo”, afirma. Para superar essa conjuntura, prega uma renovação total da esquerda, algo que ele prevê que demorará de 8 a 12 anos.
Pergunta. Na resistência ao Governo Donald Trump, uma nova esquerda surgiu nos Estados Unidos no ano passado. O que a esquerda brasileira pode aprender com ela?
Resposta. A primeira resistência a Trump foi quando ele não conseguiu músicos para a posse dele. E, depois, as mulheres organizaram milhões de pessoas, e organizaram pela base, em todos os distritos eleitorais. Houve campanhas de base em todo o país. Essa resistência refletiu nas eleições de 2018, quando mais pessoas progressistas foram eleitas com capacidade de colocar uma nova pauta de ideais sociais-democratas —não são mais que isso, mesmo o Bernie Sanders não é um revolucionário.
P. Como essa resistência deve ser organizada no Brasil?
R. Fiquei surpreso que [Fernando] Haddad tenha conseguido 45% dos votos. Mas fiquei ao mesmo tempo feliz e decepcionado, porque as pessoas acordaram muito tarde. Já estava evidente que Haddad iria para o segundo turno contra Bolsonaro, mas só depois é que as pessoas decidiram sair na rua para oferecer café e bolo para tentar virar voto. Ao invés de entender que era necessário fazer campanha eleitoral para esquerda, de qualquer partido. De todas as formas, 45% é muito se considerada a conjuntura. E uma unidade vai ser forjada concretamente ao longo dos próximos quatro anos nas práticas e frentes contra as medidas do Governo. Entendo que os partidos queiram manter seu perfil, sem querer uma frente única forte, mas se as pessoas não se unirem não vão derrotar esse Governo.
P. O que a esquerda deve trazer de novo, de propositivo?
R. Precisa pensar em como organizar as pessoas terceirizadas, as que não têm garantias de emprego, que estão marginalizadas pela maneira que o capitalismo quer desconstruir os sindicatos e uma relação de emprego estável para explorar mais as pessoas. Não existem soluções fáceis, é um processo que temos que entender, enfrentar e responder. Mas esses setores têm que ser protegidos pela sociedade. Nos EUA, uma saúde pública universal é fundamental. Porque se você é terceirizado, é um freelance, você não ganha um seguro de saúde como antigamente. Então, o Estado tem que oferecer essas proteções para as pessoas vulneráveis. Tem que garantir uma aposentadoria digna. Não vai ser fácil. O sistema antigo de financiamento da Previdência tem que ser repensado. E, neste país, os ricos não pagam impostos, quem paga é pobre e classe média. Tem que inverter isso.
P. A esquerda, não apenas a brasileira, está hoje muito engajada nas chamadas pautas identitárias. Fala-se muito sobre racismo, LGBTfobia, feminismo, questões indígenas… Mas muitos acusam esses setores progressistas de serem elitistas e sectários, por supostamente focar em pautas que não têm apelo popular, esquecendo de projetos para áreas como saúde e educação, e afastando parte do eleitorado. Concorda com essas críticas?
R. É falso, porque as campanhas de Guilherme Boulos (PSOL) e Fernando Haddad (PT) tiveram todas essas questões. Acho que a esquerda, neste momento em que está na oposição, pode cometer um grande erro de pensar que, como a direita está mobilizando sua base por valores conservadores religiosas, nós precisamos esquecer e abandonar as questões sobre a defesa dos direitos humanos e democráticos da sociedade. Você acha que não há homossexuais da classe trabalhadora? Claro que sim, e muitos. Tem em todos os setores sociais. Será que a mulher trabalhadora não é vitima de assédio e violência? Claro que é vitima, e muito. São questões totalmente integradas à luta por uma sociedade justa, que não é somente uma sociedade onde a pessoa ganha um salário mínimo de 2.000 reais. É um conjunto de necessidades para uma vida digna de qualquer pessoa. Todas as famílias brasileiras têm filhos e filhas lésbicas e gays. A maioria da população é afrodescendente e sofre discriminação todos os dias, mesmo com o discurso de democracia racial. Os povos indígenas, que são os donos dessas terras, estão ameaçados a tal ponto que suas lideranças estão tentando ter um diálogo com o novo Governo, para evitar um genocídio total. Então, dizer que são questões secundárias é não reconhecer a realidade brasileira.
P. Como esse debate se dava na época da transição para a democracia?
R. Havia setores da esquerda que diziam que havia uma única luta contra a ditadura e que todo mundo tinha que se unir, que as outras questões eram menores. Era um debate falso porque as pessoas não perceberam que a abertura implicava em democracia para todo mundo, implicava no direito das mulheres de começar a conversar sobre sua opressão, em que os negros tivessem espaço pela primeira vez criticar o racismo da sociedade brasileira, em que os LGBTs levantassem uma pauta política. Lutar pela democracia era lutar pelas liberdades democráticas para todo mundo, não só para os trabalhadores do ABC. Mas muitos utilizavam rótulos marxistas antigos do século XIX aplicado para o final do século XX, e agora estamos no XXI.
Hoje o PSOL consegue articular melhor essas questões, mas ainda é minoritário no campo da esquerda. O movimento Ele Não foi muito importante, acho que foi uma das maiores mobilizações da história do país. E é claro que isso provocou uma reação das forças conservadoras. O século XXI é o século de eliminar todas essas discriminações. E a onda Bolsonaro representa uma reação a 50 anos da esquerda lutando pelos seus direitos. Acredito que vamos acumular forças para uma contraofensiva, mas não será fácil e nem será amanhã. E, neste processo, as pessoas vão começar a perceber, como já está acontecendo com os filhos de Bolsonaro, que são populistas de direita autoritários que utilizam o discurso anticorrupção, mas são tão corruptos quantos os setores que estão criticando.
P. Mas basta se aproximar desses novos movimentos? Ou a esquerda precisa também renovar seus próprios quadros?
R. A esquerda não vai voltar ao poder se não fizer uma renovação total. É uma ilusão. Acho que é um processo de 8 a 12 anos. Se a esquerda não conseguir se recompor e incluir de maneira inteligente setores sociais, não vai ganhar a eleição. A derrota foi da esquerda como um todo. O PT vai ser fundamental nessa resistência, ele tem um apoio social que outros setores da esquerda ainda não possuem. E nós vamos recompor a esquerda na resistência contra o governo Bolsonaro e governos militares e neoliberais que vão vir depois. Bolsonaro pode se reeleger, mas Moro também pode ser presidente, Mourão pode ser presidente… Pode haver uma crise e os militares tomarem o poder. Bolsonaro é um cara muito fraco nesse movimento, ele não está preparado. Mas há um processo por trás dele.
P. Como vê a saída de Jean Wyllys do Brasil?
R. Convivo com ele, e me sinto triste porque uma pessoa tão engajada e comprometida que se sente obrigada a sair do país pode sentir como se isso fosse uma derrota. E falei para ele algo muito importante. Quando as pessoas que resistiram durante a ditadura deixaram o país, eles fizeram do exílio uma resistência. Então ele vai poder, fora do país, conversar sobre a realidade brasileira. Ele viveu isso, foi congressista três vezes, foi ameaçado, foi alvo de fake news… Ele tem capacidade de explicar essa realidade, porque ele viveu em carne e osso. Ele vai ser ainda maior no exílio que dentro do país. Mas, claro, tem que se readaptar, conhecer seus rumos… Ele não é o único exilado, e outras pessoas vão sair. Não é um exílio dourado, é muito isolamento e angústia.
P. Qual a importância de o Ministério Público lançar um site sobre Justiça da Transição no contexto político atual?
R. Estamos preocupados com a possibilidade de o novo Governo tirar os sites que já existem, como os arquivos de memórias reveladas, a Comissão Nacional da Verdade (CNV), os arquivos do DOPS dos Estados… Então, a iniciativa de lançar um site novo, que vai recuperar, registrar e oferecer para o público informação sobre esse processo da Justiça de Transição, é muito importe. No Brasil a história é bem diferente das de outros países da América Latina, porque foram quase 15 anos de transição democrática e os militares conseguiram controlar esse processo. A Anistia perdoou agentes do governo que cometeram graves violações de Direitos Humanos, algo totalmente diferente da realidade argentina, por exemplo. Lá, o processo foi muito rápido, porque o Governo era brutal, torturava e matava muito mais gente. Foi um Governo de seis anos derrotado pela guerra das Malvinas, e imediatamente houve investigação sobre os crimes da ditadura. No Chile, houve o plebiscito de 1990 que Pinochet perdeu, e logo depois fizeram a comissão para investigar os crimes da ditadura. No Brasil, os anos 80 e 90 foram um momento de organização de novos partidos políticos, de canalização de toda uma energia anterior que lutava pela democratização para os novos movimentos sociais. Na Argentina e Chile, partidos que foram proibidos se reorganizaram rapidamente. Já estavam preparados, com projetos de Governo.
P. Essa demora em começar a falar do passado tem a ver também com a crise econômica e inflacionária que assolava o Brasil no momento da transição?
R. Sim, era uma crise econômica muito forte e um setor das esquerdas optou, por uma questão pragmática, e já derrotado pela Lei da Anistia, por enfatizar possibilidades novas e construir uma democracia com novos partidos e novos movimentos sindicais e sociais. Mas deixaram de lado a revisão do passado. E outros setores do PCB, que entraram no MDB, já não estavam interessados em revisitar o passado, com exceção de alguns casos pessoais. Então os familiares das vítimas e as pessoas mais comprometidas não tiveram um apoio social para levar o processo adiante. Anos depois houve uma acumulação de forças para fazer as várias comissões.
P. Muitos comparam o número de mortos da ditadura brasileira com as cifras das ditaduras argentina e chilena, para dizer que aqui não houve ditadura. Por que aqui essa narrativa persiste? Acredita que os mecanismos de censura e propaganda do dos Governos militares no Brasil eram mais sofisticados?
R. O fato de a ditadura brasileira ter durado 21 anos e ter mudado as regras do jogo para se manter no poder, manipulado muito a situação, facilitou a falta de clareza das classes médias sobre a natureza da ditadura. Também tem o fato de que menos pessoas foram atingidas diretamente. O Brasil é muito maior que a Argentina, onde a repressão foi concentrada em Buenos Aires. Lá existe uma tradição muito forte de luta e resistência, enquanto que no Brasil uma parcela muito menor resistiu e durante um processo muito longo. E também houve a capacidade, tanto da ditadura como da mídia, de manipular a informação.
P. A Comissão Nacional da Verdade (CNV) contabilizou 434 mortes causadas pelo Estado brasileiro. Mas foi na ditadura que, por exemplo, os esquadrões da morte mais aterrorizaram favelas e periferias. E também populações indígenas inteiras foram dizimadas. Acha que a história da ditadura ainda não está completa?
R. A história foi contada num primeiro momento por exilados, pessoas que estiveram envolvidas na luta armada. Então óbvio que eles vão enfatizar a história deles. Mas, nesses 21 anos de ditadura, a polícia e os coronéis do interior tiveram toda a liberdade para fazer o que queriam. Entre os camponeses, houve massacre atrás de massacre de pessoas que lutavam pela sua sobrevivência. A política do Governo Médici de abrir a Transamazônica levou a massacres de povos indígenas. Estamos vendo isso agora, mas não havia registros sobre essa situação. A mesma coisa sobre a questão LGBT. Não é que não existia repressão contra os LGBT antes do golpe, mas com o Governo censurando as noticias, com a licença para a polícia fazer qualquer coisa, havia uma violência muito grande contra esse setor que seria mais difícil de ocorrer durante o Governo democrático. O conceito da CNV, que foi o correto, foi o de apurar, tentar saber quais foram as pessoas que participaram da tortura, tentar encontrar mais informação sobre os desaparecidos, denunciar o número de colaboradores do regime… Mas eles tiveram uma missão mais restrita. Eu e outras pessoas que participamos como assessores conseguimos ampliar leque e mostrar que a repressão não foi só contra o Partido Comunista, mas contra a sociedade como um todo. Havia censura e impunidade da polícia quando quiseram matar negros e gays nas ruas e favelas.
P. Qual é a relação que enxerga entre violações que já ocorriam antes e durante a ditadura com as violações que continuam ocorrendo durante o período democrático, inclusive durante os Governos petistas? A construção de Belo Monte significou remoções forçadas de povos inteiros, como na ditadura. O fato de a história não ter sido bem contada influencia?
R. Não é que não foi bem contada.O processo de transição, de conciliação de forças políticas para manter-se no poder, evitou um questionamento mais profundo. Como houve a anistia para torturadores, a polícia aprendeu que nada acontece se você torturar um negro e até matar. Se mata, vou dizer que ele tentou me matar primeiro. Há impunidade por causa da falta de um balanço sério sobre as implicações das violações de Direitos Humanos durante a ditadura. Houve essa continuidade, e uma continuidade de uma elite que se manteve sempre no poder e manipulou a transição e o processo democrático. E uma certa continuidade de práticas de clientelismo, de acordos de corrupção que se tornaram mais importantes que os programas para o país. O PT também se adaptou a essa realidade ao longo do tempo no poder, fazendo uma série de coisas que foram debilitando sua legitimidade na sociedade. O mensalão significou ganhar uma maioria, que não conseguiram nas urnas, com pessoas que não tinham compromissos ideológicos.
P. Quem foi Herbert Daniel? Foi um militante gay numa época em que nem a esquerda abraçava essa pauta?
R. É mais complicado. Num primeiro momento ele era um jovem estudante querendo fazer faculdade de Medicina. No último ano de colégio ele descobre que é gay e descobre um mundo clandestino de pessoas que se encontram na rua para ter relaciones sexuais… Mas, ao mesmo tempo, ao entrar na faculdade, ele descobre o mundo da esquerda contra a ditadura. E ele percebe que não tem espaço dentro dos grupos para ser gay, que há uma marginalização. Então ele opta por reprimir sua sexualidade e se compromete com a luta armada. Em determinado momento ele se apaixona por um companheiro e foi Dilma Rousseff quem o incentivou a se declarar para essa pessoa. O cara não gostou, disse que podiam continuar amigos, mas que não era gay. E isso foi um golpe muito forte. Ele percebe que, se queria fazer a revolução, então não dava para manter uma vida homossexual.
Através de pessoas que o ajudam a se esconder em Niterói, ele conhece um casal. E o homem desse casal, Claudio Mesquita, era bissexual. Ficaram grandes amigos e, quando fogem para a Europa, começam uma relação. Foram companheiros durante 20 anos. Então foi no exílio, quando já não era militante, que ele começa a repensar tudo e perceber que não pode mais reprimir sua sexualidade. Em Paris ele passa a trabalhar como porteiro e assistente de uma sauna gay e a viver dentro desse mundo. Começa a pensar e a escrever suas memórias. Ao voltar, em 1981, ele publica suas experiências na luta armada, sendo bastante crítico com relação às estratégias da esquerda e colocando suas ideias com relação à homossexualidade.
Ele contava sobre sua vida sexual, algo bastante chocante para esquerda, que considerava a homossexualidade um desvio burguês, uma preocupação pequena burguesa sobre a sexualidade. Achava ia acabar a homossexualidade depois da revolução… A sociedade brasileira ainda era muito conservadora nos anos 60. Havia essa juventude que estava rompendo com valores tradicionais conservadores, mas ela mesmo vinha de famílias muito conservadoras. Quando Herbert Daniel volta para o Brasil, ele vai participar da campanha eleitoral de um ex-guerrilheiro para deputado estadual no Rio e vai introduzir não somente a questão homossexual como também a ambiental, que a esquerda ainda achava que era uma preocupação dos países imperialistas. Mesmo hoje muitos argumentam que questões de desenvolvimento são mais importantes que o meio ambiente. Belo Monte é um exemplo desse conflito.
brasil.elpais.com