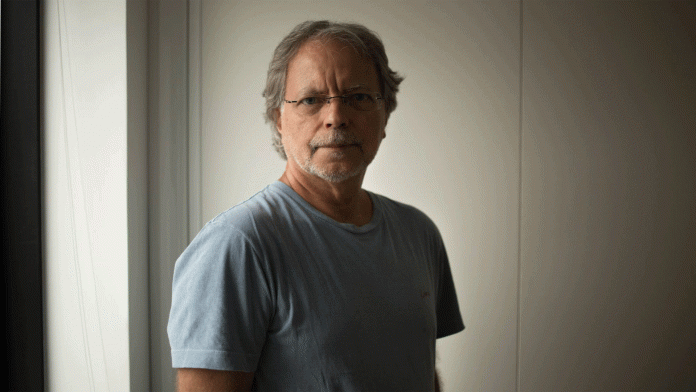O escritor moçambicano conversa com o EL PAÍS sobre escrita, política e o ciclone Idai, que quase destruiu sua cidade natal e demorou a ser notado pelos brasileiros
Joana Oliveira
Antes de aprender a ler livros, Mia Couto (Beira, Moçambique, 1955) aprendeu a ler a terra. A grande diversão de seu pai, um poeta que teve que exilar-se de Portugal devido a perseguições políticas, era passear com os filhos ao longo da linha do trem para buscar pequenas pedras brilhantes no meio da poeira. “Ele ensinou-nos a olhar para as coisas que pareciam sem valor. E, sem nunca nos obrigar a ler, ensinou-nos a ler a vida”, conta António Emílio Leite Couto —Mia é um pseudônimo— em uma sala de reunião de um arranha-céu de São Paulo. Com uma camiseta azul (um tanto amassada) da mesma tonalidade de seus olhos e uma calça jeans, o escritor parece haver caído de repente no espaço onde, no recinto ao lado, homens e mulheres em blazers e paletós discutem negócios. Por vezes, as vozes do grupo elevam-se, ainda que sutilmente, mas o suficiente para contrastar com o tom monocórdio e pausado do escritor moçambicano, que, em sua fala tranquila, constrói elucubrações literárias e metáforas a cada segundo.
Mia Couto descobriu-se poeta aos 14 anos — o primeiro poema foi feito para o pai e publicado sem a autorização do jovem escritor no Diário da Beira, algo que, à época, lhe fez querer “morrer de vergonha”. A prosa chegou anos mais tarde, quando começou a trabalhar como repórter em um jornal, como infiltrado da luta clandestina pela independência de Moçambique. “Aí comecei a ter a tentação de escrever, de inventar mundos paralelos”, lembra. Quando conheceu a lírica de João Guimarães Rosa, soube que ia por bom caminho. O escritor moçambicano visitou recentemente diversas capitais do Brasil para falar sobre a obra-prima do brasileiro, Grande Sertão: Veredas (1956), que acaba de ganhar uma nova edição da Companhia das Letras. Numa dessas vindas, conversou com o EL PAÍS, em São Paulo, sobre a influência desse livro em sua escrita, sexismo na literatura e sobre como as palavras reinventam-se e seguem vivas, firmes, mesmo quando tudo ao redor se destrói.
Pergunta. Quando você conheceu a literatura de Guimarães Rosa?
Resposta. Ele chegou a mim através de Luandino Vieira, um escritor angolano que me influenciou muito. Meu primeiro livro de contos foi muito marcado pela escrita do Luandino, que deixava que as vozes da rua entrassem na história e fossem elas próprias personagens. E um dia ele falou comigo e disse: “Vai até a fonte, que está no Brasil. Eu mesmo fui influenciado pelo Guimarães Rosa”. Em 1985, quando Moçambique vivia uma guerra civil que nos fechava para o mundo, eu não conseguia ter ligação com o Brasil, mas um amigo trouxe-me uma fotocópia d’A terceira margem do rio. Eu estava no processo de criar meu segundo livro de contos, e aquilo foi como se eu tivesse descoberto a própria vocação de escrever. Esse foi meu primeiro grande contato com Guimarães. Depois fiquei anos tentando voltar e encontrá-lo em livros e mais tempo ainda demorei em chegar a Grande Sertão: Veredas. E, quando cheguei a ele, mesmo tendo passado pelos contos, o primeiro encontro não foi fácil. Eu acho que tinha medo, continuo tendo. É como se de repente houvesse uma revelação, não sobre o que ele estava contando, mas sobre mim próprio.
P. Qual foi essa revelação?
R. O que o Guimarães fez foi uma abertura de caminho, uma espécie de luz verde, uma autorização, dizendo “você pode ir por este caminho, pode-se fazer literatura assim”, deixando que as vozes chamadas não cultas, que as vozes das pessoas do campo pudessem remexer na história e no próprio narrador. Quando cheguei a Grande Sertão, eu já estava embriagado dessa literatura.
P. Dar esse protagonismo às vozes das personagens, como se brotassem sozinhas das páginas do livro, é a grande contribuição de Guimarães Rosa à literatura lusófona?
R. Eu acho que tudo o que ele faz é quase um milagre, principalmente tendo o pé em uma coisa muito perigosa, que é o pitoresco, que pode ser considerado regionalista, e, ao mesmo tempo, debruçando-se sobre os grandes temas do mundo, as grandes interrogações da humanidade. Do ponto de vista da literatura lusófona africana, foi uma contribuição mais ao nível do tratamento linguístico, ver como ele contava aquilo por meio de uma linguagem poética.
P. Qual seu trecho favorito de Grande Sertão?
R. É o momento em que o Riobaldo sobe numa grande pedra, olha para o vão abaixo e diz que parece que é como se a gente tivesse um brinquedo, que é o mundo. Essa coisa de transformar o mundo em uma coisa com a qual podemos brincar é uma espécie de revolução de uma infância que foi tolhida. Isso me tocou.
P. Vê similaridades entre sua obra e a de Guimarães Rosa?
“Quando o sofrimento é tão intenso, eu acho que não tem cabimento meu papel como escritor”
R. Acho que não tem muita coisa. Só isso que eu, agora já menos, mas em um certo momento deixei-me encantar por essa brincriação, que era jogar com as palavras, reinventá-las, muito motivado por uma coisa que vem de dentro. Isto é, os moçambicanos têm vivas e falam em seu cotidiano outras línguas que não o português, e há um momento muito feliz para um escritor, que é perceber que sua língua não está acabada, não está feita. Por exemplo, eu todo dia recolho palavras novas na rua, palavras que não são criações literárias. Isso é um alimento muito grande. Por exemplo, as pessoas dizem arrumário para dizer armário. A palavra arrumário tem muito mais sentido, não só porque é o lugar onde arrumamos as coisas, mas porque, se revisitarmos a história, o armário era o lugar onde se guardavam as armas. Essa relação da língua com uma coisa que é nossa, mas não é, que tem profundidade e história, é muito salutar para nos reportarmos ao que Guimarães Rosa dizia sobre o malefício de uma linguagem funcional, uma linguagem que serve só para uma comunicação imediata.
P. O contato com a literatura brasileira tem ampliado seu vocabulário de brincriação?
R. Sim, porque o Brasil tem esse desafio de dizer sua cultura em uma língua que era a língua do outro. O país teve que encontrar isso, então há uma relação muito mais criativa, de fruição da língua portuguesa, mais do que existe em Portugal, onde o idioma é tão próprio que é difícil brincar com ele.
P. Quais são os brasileiros e brasileiras que você mais lê?
R. Eu sou da poesia e fico estagnado no tempo, então sou muito ligado também ao Carlos Drummond de Andrade, ao João Cabral de Melo Neto mais ainda, à Hilda Hilst, Manoel de Barros…
P. Do que escreveria se fosse brasileiro?
R. Não sei. Vejo, sobretudo aqui em São Paulo, uma nova geração que vive um lado da escrita muito curioso, uma escrita sem lugar, que fala sobre o próprio drama do escritor, que não precisa tanto de uma história. Eu não seria capaz de fazer isso, porque eu teria que viver em uma grande cidade como esta, o que me arrancaria da relação com a terra, a terra como se fosse uma criatura viva. Eu teria que escrever sobre o sertão, como o Guimarães (risos), porque ele conseguiu essa relação com um lugar que não é lugar nenhum, que ele inventou a partir de vozes que dizem coisas poderosas.
P. Você já disse que na África não há realismo mágico, mas sim um “realismo real”. Acredita que acontece o mesmo no Brasil?
R. Vejo muito a África nas pessoas daqui, mesmo naquelas que, aparentemente, não têm relação histórica com o continente. A África impregnou muito o Brasil, desde a relação com o tempo, com o corpo, essa fronteira muito fluída entre a rua e a casa, o íntimo e o público, não é? A África está presente no Brasil de maneira que os próprios brasileiros não identificam.
Podemos escrever uns sobre os outros. Antes, havia uma interdição: os africanos que escrevessem sobre Europa ou América não eram considerados, porque existia aquela obrigação de o africano ser “autêntico”. Não sabemos o que é isso de ser “autêntico”, mas, para atender aos critérios de aceitação da crítica, pediam uma “África tradicional”, tinha que ter uma fogueira, uma feiticeira e esse tipo de estereótipo que identifica uma “África autêntica”. A nova geração de escritores africanos libertou-se dessa africanidade imposta desde fora e hoje há muitos escrevendo sobre o mundo inteiro.
Um africano pode escrever sobre o Brasil, mas não é o meu caso. Porque eu transportaria tanto a minha infância para qualquer lugar que eu fosse, que estaria sempre escrevendo num mesmo lugar, que é minha cidade. Agora que aconteceu o ciclone, percebi como isso tudo que era um chão que parecia estável, que parecia definitivo, de repente pode fazer-se frágil. Entrei em pânico, porque pensei que tinha perdido meu lugar de infância, mas quando visitei a Beira, percebi que uma cidade é feita, sobretudo, de pessoas. E as pessoas estavam ali, lutando, reconstruindo as casas e ainda com capacidade de contar histórias. Ali eu percebi que não, não acabou.
P. Uma parte de seu futuro romance se passa em uma igreja de Beira, que foi destruída pelo ciclone Idai. De que modo isso lhe afetou?
R. Agora que tive tempo de pensar minha relação com a escrita do Guimarães Rosa, vi que, no fundo, o que ele entrega é essa possibilidade nossa de fazermos de um lugar uma coisa sonhada, alguma coisa que é mítica, que não faz parte da geografia. Percebi que essa minha cidade é uma cidade que inventei. Aliás, isso é muito concreto, porque quando estou a falar com meus irmãos com muito entusiasmo sobre coisas que se passaram na nossa infância, eles me dizem “não foi assim, nunca aconteceu isso”. Eu ignoro, porque, para mim, aconteceu.
P. Você pensou em contar as histórias de sobrevivência de Beira, tanto das pessoas quanto de sua cultura, depois do ciclone?
R. De repente, tenho que repensar o romance que já comecei, e tenho um certo pudor em me aproveitar da circunstância dramática. Quando o sofrimento é tão intenso, eu acho que não tem cabimento meu papel como escritor. Se eu faço qualquer coisa em relação a esse tema, será como cidadão, ajudando os outros, sem interesse literário. Pensei, sim, em fazer um registro daquelas pessoas foram heróis, que salvaram, que se entregaram, que arriscaram a vida e que nunca terão protagonismo. Penso em fazer isso de maneira prática e didática para contar aos jovens que há gente que não tem rosto nem nome, mas que é capaz de gestos como esses. Eu e minha família [por meio da Fundação Mia Couto] faremos um livrinho com o depoimento dessas pessoas.
P. O romance, então, está provisoriamente suspenso?
R. Tenho que repensá-lo. E eu cheguei a um momento que é muito triste para mim, que é quando já sei o que vai acontecer, então adio o máximo possível. Como ter vontade de escrever se eu já sei o que é a história?
P. A nova obra já tem nome?
R. Eu vou dando nome aos livros à medida que eles vão se revelando. O nome que estava vivo, que me guiava, era um nome quase premonitório em relação a essa situação, porque era algo como Antes de nascer, vi rios e mares. E, de fato, foram rios e mares que engoliram aquela cidade.
P. Você diz-se surpreso com a ajuda destinada pelo Governo brasileiro à Moçambique depois da tragédia, considerando os laços culturais e históricos entre ambos países. Considerou-a pequena. [Além da ajuda financeira, o Governo enviou 40 bombeiros que atuaram no desastre de Brumadinho, e decidiu manter a equipe de salvamento no país depois que o ciclone Kenneth, o segundo desde março, atingiu o norte de Moçambique nas últimas semanas].
R. Sim, mas gostaria de dizer uma coisa também para me defender, porque parece que é pouco polido da minha parte, estando Moçambique a receber e eu a dizer que é pouco. Mas realmente esperávamos mais do Brasil, porque eu recebia tantos contatos de tanta gente que queria ajudar que me parece que uma pequena fração dessa gente que telefonou e escreveu já cobriria os 100 mil euros enviados pelo Governo brasileiro.
“A África está presente no Brasil de maneira que os próprios brasileiros não identificam”
Mas acho que mais grave até do que o Governo dar pouco, foi como a notícia chegou tão tardiamente aqui. Falei com amigos brasileiros que só uma semana depois da tragédia acordaram para uma coisa que, em outros países, a BBC e a Al Jazeera, por exemplo, já contavam. Doeu ver como África e Moçambique ficaram tão distantes, já estivemos mais próximos.
Quando eu cheguei aqui há 15 anos, a África ainda era muito mistificada, mas isso mudou com políticas de aproximação do Governo Lula, por exemplo. Por outro lado, o próprio Brasil é muito grande para perceber o que está a acontecer fora. O Brasil tem tanto dentro que é difícil olhar para fora, e esse fora tem um critério, obviamente: estar mais próximo dos Estados Unidos e da Europa. O país não se reconhece nem na chamada América Latina, algo que é estranho para nós, porque a África vive a si própria como uma entidade. Os africanos cantam a África como se fosse uma espécie de grande nação. Quando o Brasil fizer isso, vai se abrir para o continente.
P. Qual o papel da literatura para o país reconhecer a si mesmo?
R. Em Moçambique, como a África como “grande mãe” está sempre tão presente, tivemos que desmistificá-la e perceber que há várias Áfricas, várias nações, e contar essa diversidade.
P. Em Terra Sonâmbula, você conta a guerra civil moçambicana e defende que a literatura tem a missão de revisitar o passado, mas sem a tentação de atribuir culpas. De que maneira política e literatura relacionam-se e como a primeira deve refletir a atualidade?
R. Tanto a política quanto a literatura são construções narrativas. Mas a construção da narrativa literária é uma mentira que não mente, enquanto a política faz o inverso. É discutir a verdade, pensar como hoje a política se constrói muito a partir da mentira, isto é de uma narrativa pobre, que vai de encontro aos medos, aos fantasmas, à criação de ódio. A literatura pode mostrar esses que são chamados “os outros” —essa invenção da política de hoje, que é quase preparatória do fascismo— não são meus inimigos. A literatura lembra a importância do diálogo. Nós chegamos a essa conclusão em Moçambique depois de uma guerra civil que começou com a diabolização do outro, até o ponto em que eu não falava com determinada pessoa só porque ela era de outro partido. Dezesseis anos e um milhão de mortos depois, a gente viu que teríamos que conversar.
P. É possível escrever sobre o passado sem apontar culpas mesmo revisitando episódios como, por exemplo, uma ditadura militar?
R. O que a literatura pode fazer é mostrar que aquele que estava do outro lado, apesar de tudo, mesmo que fosse um torturador, por exemplo, tinha conflitos internos. Que ele não era assim porque tinha um demônio dentro de si. Mas isso não tem a ver com o que podemos ajuizar como justificável. A literatura não pode atenuar o peso que as vítimas têm. O sangue que essa gente derramou não pode ser lavado por meio da literatura.
P. Aos 17 anos, você abandonou a faculdade de Medicina para alistar-se à luta clandestina pela independência de Moçambique. De que maneira a militância política influenciou seu trabalho? Quando escreve, você ainda é aquele rapaz de 17 anos?
R. Eu acho que sou sempre, mesmo quando não estou escrevendo. Aquela entrega a uma causa me marcou muito, porque eu tinha a crença absoluta de que estava fazendo uma coisa que não era por mim, mas pelos outros, para mudar o mundo, mesmo que uma parte desse mundo tombasse em cima de mim, porque eu fazia parte de uma minoria privilegiada e eu queria derrubar o sistema que sustentava esse privilégio. Era uma coisa que, para mim, não sendo eu religioso e tendo uma formação como ateu, não tenha escapado a essa ideia cristã de me redimir com qualquer coisa que traga como pecado original, não sei. Eu me alistei porque havia também uma razão moral. Nosso lema era “somos os primeiros nos sacrifícios e os últimos nos benefícios”. Isso foi verdade nos primeiros anos. Quando chegou a guerra civil, não havia o que comer. Eu estava na fila, esperando horas para uma pequena loja abrir e, muitas vezes, não havia nada dentro. Não quero nunca mais passar por essa experiência. Eu saía de casa todos os dias sem saber o que ia trazer de comer para os meus filhos, e isso durou não um dia ou um mês, mas anos. Só suportamos isso porque sabíamos que estávamos juntos.
P. Por falar em privilégios, quando se fala hoje em literatura africana, temos autoras como Chimamanda Ngozi Adichie, mas os nomes mais venerados ainda são aqueles como Mia Couto, José Eduardo Agualusa ou J. M. Coetzee. É preciso ser um homem branco para ser considerado escritor na África?
R. Isso vai acabar rapidamente. É uma herança histórica que a atual geração de escritores africanos vai enterrar. Eu e Agualusa somos resultados desse mundo em que nós [homens brancos] éramos os educados, os que recebíamos formação, mas isso já está mudando. Todos os escritores moçambicanos que eu conheço são negros. Alguns deles têm, realmente, grande mérito. Está a surgir em Moçambique e Angola uma educação para que as pessoas dominem a literatura e os instrumentos para escrever, então não é tanto uma questão política, nesse sentido.
Acredito que talvez haja, sim, a percepção de que eu e Agualusa, por exemplo, tenhamos sido injustamente promovidos porque somos brancos ou porque somos homens. Se isso aconteceu, tenho que tirar partido no sentido oposto. Por exemplo, eu e minha família criamos uma Fundação para promover a literatura entre jovens moçambicanos —e quando digo moçambicanos, automaticamente estou a dizer negros— e ajudá-los a publicar seus livros e construir espaços de debate literário.
Em relação ao sexismo, aí sim a luta é mais complicada. Estão vivos ainda preceitos e preconceitos que realmente afastam a mulher desse reconhecimento. Temos a Paulina Chiziane, que, felizmente, já está lançada no mundo e é bem aceita. Mas, no início, por ser mulher e por acreditar que uma mulher possa contar histórias e que possa falar de coisas da intimidade, da sexualidade, ela sofreu muito e quase fez um auto-exílio.
P. Seu nome é um dos mais celebrados quando se fala em literatura lusófona. Em 2013, você ganhou o Prêmio Camões, assim como José Saramago. Você sonha com honrarias maiores? O Nobel, talvez?
R. Não penso nisso, não. E, quando penso, penso que é impossível.